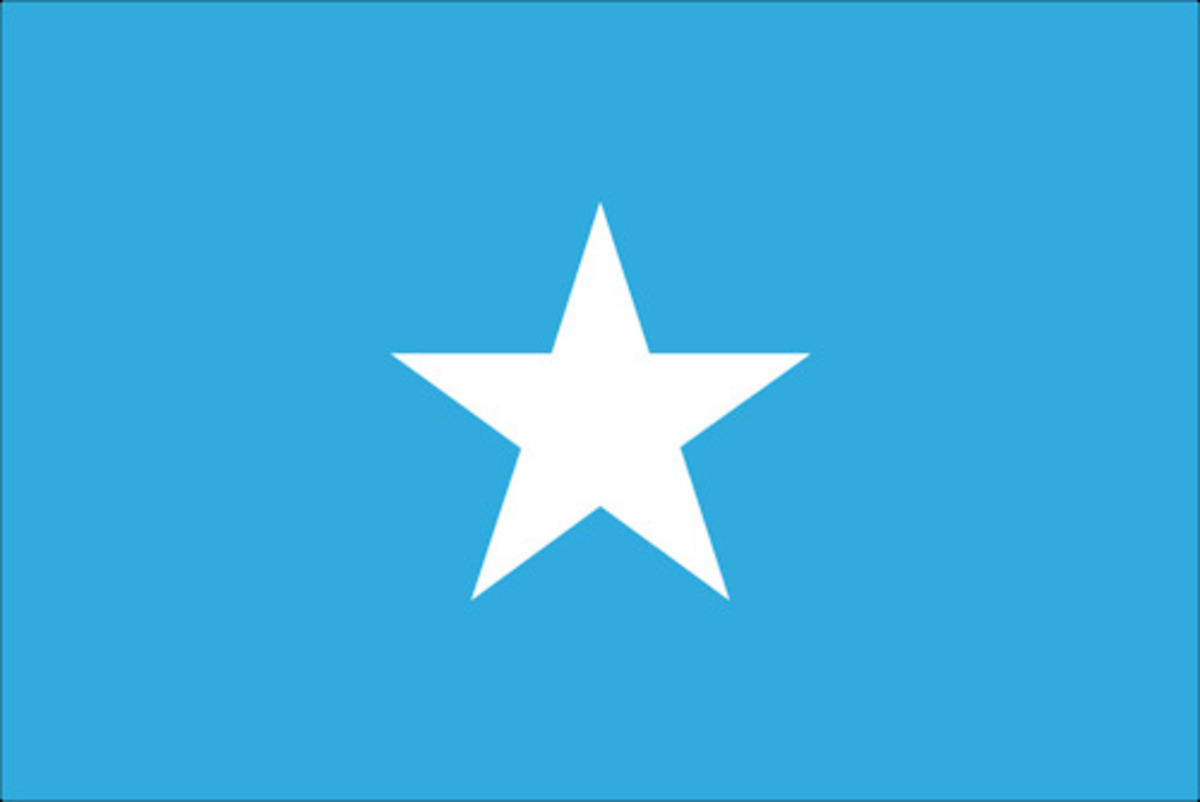Um caminhão com centenas de quilos de bombas explodiu perto do Ministério das Relações Exteriores da Somália. Duas horas depois, outra explosão ocorreu na região da Universidade Nacional Somali. Duas áreas movimentadas, em uma cidade de 1,5 milhão de habitantes. Isso foi no sábado 14 e, enquanto as buscas nos escombros continuam, o número de mortos já passa de 300. Pode subir ainda mais, por causa dos corpos incinerados na onda de calor ou severamente mutilados pelas explosões. Mogadíscio foi alvo mais uma vez do terror.
Talvez isso tenha passado batido. Mas foi o pior atentado do mundo desde julho de 2016, quando uma série de bombas em um mercado de Bagdá matou mais de 320 pessoas (não, o pior dos últimos tempos não foi o de Paris).
O ataque foi atribuído ao grupo radical islâmico Al Shabab, parceiro da Al Qaeda no Chifre da África. Nos últimos anos, conforme perdia territórios e poder, a milícia intensificava os ataques, seguindo um padrão de comportamento comum a terroristas acuados, tiranos à beira da derrota, cães raivosos e goleiros desesperados que correm para o outro lado do campo em busca de um gol salvador.
Quanto mais território a Al Shabab perdia, mas terror tocava. Em 2013, membros do grupo abriram fogo e mataram 67 pessoas em um shopping de Nairóbi, Quênia – país fronteiriço para onde a Al Shabab se direcionou com as derrotas em território somali. Em 2015, pior ainda: os terroristas mataram 148 pessoas na Universidade de Garissa, também no Quênia.
Apesar de os ataques de 2015 terem sido direcionados a cristãos e de que a Al Shabab já exterminou cristãos em outras ocasiões e em outros países, o mais recente atentado não mirou a religião – afinal, aconteceu na própria capital desse país 99,8% muçulmano.
CONTEXTO HISTÓRICO
- (Foto: Reprodução/Domínio Público)
Para tentar entender o caos que assola o país há décadas, voltar à Guerra Fria ajuda. Os somalis, como quase toda a África, constituíam um país jovem. Após 90 anos divididos entre italianos e ingleses, eles se unificaram em 1960. A bandeira com a estrela de cinco pontas representa os cinco grupos que constituíam a Somália histórica. Os da colônia italiana, ao sul, e os da colônia inglesa, ao norte, estavam juntos. Mas ainda faltavam aqueles nos vizinhos Djibuti, Etiópia e Quênia.
Em 1974, a Somália, país maior que Bahia, Sergipe e Alagoas juntos, cheio de montanhas no norte e planícies no sul, sentia os acontecimentos conturbados que mudariam o destino da Etiópia. Uma ditadura militar comunista tomou o poder no país, destronando o rei-divindade-rastafári Hailé Selassié. Três anos depois, em um golpe dentro do golpe, Mengistu Haile tornou-se o ditador, adotando uma postura violenta, que massacrava até mesmo os próprios comunistas do país.
Enquanto Mengistu Haile estava ocupado caçando outros comunistas e matando o povo de fome, o ditador da Somália, general Siad Barre, tinha seus próprios planos. Naquele mesmo 1977, ele invadiu o Deserto de Ogaden, a área etíope habitada por somalis.
Pausa para um contexto global. Anos 70, Guerra Fria rolando, aquele conflito tenso em que americanos e soviéticos dividiram o mundo entre si, mas não entraram em guerra oficial e diretamente (apesar de terem participado, quando não causado, de uma série de conflitos no planeta, o que faz a gente se perguntar o quão “fria” a guerra foi…). Mengistu, como é de se imaginar, era apadrinhado da União Soviética. O problema é que Barre também era, então Moscou não queria saber de uma guerra entre aliados.
- Siad Barre, cerca de 1970. (Foto: Governo da Somália/Domínio Público)
A URSS tentou demover o general somali da ideia. Não deu certo, Moscou deixou Barre à própria sorte, o general debandou para o lado americano do War da Guerra Fria e acabou, mesmo assim, invadindo o deserto. Os etíopes, com a ajuda de cubanos (já que uma mão a mais nunca é demais) expulsaram os invasores, em 1978. Quase 1 milhão de somalis de Ogaden se refugiaram na Somália.
Mesmo derrotado, Barre se manteve no poder até 1991, ano em que também caíram a ditadura de Mengistu Haile e a URSS. A Somália virou um país inviável, com clãs digladiando pelo poder. Tropas da ONU e dos EUA intervieram. Em 1993, dois helicópteros americanos foram derrubados, para a humilhação de Washington (a história rendeu o filme Falcão Negro em Perigo, de Ridley Scott).
O desgoverno na Somália seguiu firme nos anos seguintes. Em 2006, uma nova força na guerra surgiu, a União das Cortes Islâmicas (UIC), um grupo de milícias que queria instaurar um Estado islâmico no país. Uma ação militar da Etiópia, agora com apoio dos EUA, enfrentou a UIC, junto com o governo pró-Ocidente. Em 2007, o número de refugiados no país chegou a 1 milhão.
A bagunça generalizada também propiciou o surgimento de piratas no Golfo de Áden. Em 2009, foram 214 ataques, e um deles ficou famoso, graças a Tom Hanks, no filme Capitão Philips. Naquele ano, as tropas etíopes se retiraram, e o vácuo foi aproveitado pela Al Shabab, que conquistou várias porções do país. Em 2011, uma missão de paz da União Africana, a Amisom, retomou a ofensiva militar, com apoio americano. Ao mesmo tempo, uma grave seca, aliada à violência, deixou 260 mil mortos.
Até o ano passado, os redutos do grupo terrorista se reduziram drasticamente. Em fevereiro de 2017, Mohamed Farmaajo tornou-se presidente da Somália, com um discurso de “início de uma era de união”. Mas os ataques de sábado ainda questionam a viabilidade do país. Lá se vão 26 anos, o que deixa a Somália um lugar difícil de ser superado em termos de caos.
- O mapa destaca a região separatista Somalilândia e Puntlândia, onde é possível haver grandes reservas de petróleo. (Foto: Domínio Público)
DESGRAÇAS
Não precisava ser assim. Diferentemente de muitas outras nações africanas, trata-se de um país com basicamente um povo (98,3% somali), apenas dois idioma majoritários (somali e árabe), uma religião (Islã) e diversos elementos culturais em comum, em um território vasto, dono do maior litoral da África continental, com mais de 3 mil quilômetros, às margens de uma região globalmente estratégica, entre o Golfo de Áden e o Oceano Índico. Além disso, o país tem, possivelmente, grandes reservas de petróleo.
E aí chegamos a outra questão problemática. Como (quase) sempre.
Para especialistas em geopolítica árabe como o diplomata etíope Mohamed Hassan, o interesse dos EUA em enfrentar os clãs trazia, embutida, a intenção de manter o país fragmentado. Eles temeriam que, caso a Somália se torne um país um pouco mais organizado e que consiga explorar suas próprias fontes de petróleo e exportá-las, ela seguiria o exemplo do Sudão: o petróleo que os americanos descobriram no país há 30 anos hoje não é vendido aos EUA, mas à China.
Então, não seria do interesse de Washington um Estado forte no bico do Índico, muito mais perto da Índia e da China do que do Texas, com potencial de alimentar um polo econômico no Índico africano (o que era um sonho de Nelson Mandela). Além do mais, autoridades somalis já estão negociando a exploração petrolífera no país com os chineses. A Guerra Fria acabou, mas o país segue em um jogo insalubre e insustentável entre as grandes potências.
Existe também a possibilidade da fragmentação. A Somalilândia, região semidesértica na costa do Golfo de Áden, mais tranquila do que o resto, luta pelo reconhecimento de sua independência desde 1991. Enquanto isso, a tragédia segue seu ritmo, com pouco interesse despertado do mundo. O caos é tão grande que nem há estimativas consistentes de baixas. Os números giram de 500 mil a mais de 1 milhão de mortos desde 1991.
Foto de capa: Feisal Omar/Reuters
Fonte: Superinteressante